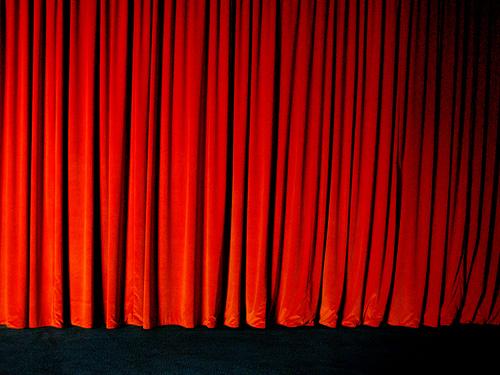español
Abrem-se as cortinas. O espetáculo vai começar. Na promessa de um acontecimento, aquilo que antes estava oculto agora se mostra aos olhos do espectador. O uso da cortina teatral, quase sempre, provoca um jogo de aparição e desaparição. Como num passe de mágica, surge uma cena. No teatro, principalmente, a movimentação da cortina delimita o tempo e cria um certo suspense; enfatiza a curiosidade e o desejo de revelação. Ver a cortina se abrir é deixar-se seduzir.
De fato uma das estratégias da sedução é, segundo Jean Baudrillard, a do engano. O gesto de abrir e fechar a cortina, portanto, estabelece um jogo, criando uma regra de controle do tempo. Sua abertura permite a entrada do olhar. “Como a sedução nunca se detém na verdade dos signos mas sim no engano e no segredo, inaugura um modo de circulação secreto e ritual, uma espécie de iniciação imediata que só obedece à regra de seu próprio jogo.”[1]
Nesse sentido é possivel entender a movimentação da cortina como um ritual, um dromenon[2]. E talvez por isso, Bertold Brecht questionou seu uso, vendo-a como instrumento perigoso. Para Brecht, a cortina é como uma guilhotina. Surgiu no teatro romano e foi usada intensamente no Renascimento e na época clássica, mas só no século XVIII ela passou a ser fechada no final de cada ato. Hoje, muitas vezes, a utilização da cortina é questionada em relação à consciência do que incita ou representa.
Esse marco teatral, utilizado principalmente em palco italiano, foi curiosamente explorado no campo da pintura e da escultura. O episódio que envolve a exposição do quadro A origem do mundo, de Gustave Courbet ou a cena teatral criada para a escultura de Robert Morris, um século depois, embora com diferentes intenções, apontam o interesse em trazer o aspecto teatral para a obra plástica através da inserção da cortina.
 Gustave Courbet: A origem do mundo, 1866.
Gustave Courbet: A origem do mundo, 1866.
Quando o quadro A origem do mundo, de Gustave Courbet foi encomendado e vendido para Khalil Bey em 1866, ficou exposto em um banheiro na casa do colecionador. Khalil Bey queria criar uma situação intimista para mostrar o quadro e para isso acentuou o mistério inserindo uma cortina para desvendar a imagem diante de seus convidados. Thierry Savatier comenta que “era evidente que apenas o dono da casa, como dá a entender a cortesã, e algumas de suas convidadas, tinham acesso a esse ambiente. Não havia nenhuma necessidade de proteger o quadro dos olhares. No entanto, o escondeu debaixo de uma cortina verde. Obviamente seria inútil ver nesse gesto uma concessão ao decoro. Provavelmente, tratava-se de um jogo, de um instrumento ritual de um culto destinado a intrigar e impressionar seus amigos.”[3]
A cortina confere um caráter efêmero para a pintura estabelecendo um tempo cênico. Quando ela fecha, a imagem não está mais diante dos olhos do espectador. Nesse sentido há uma teatralidade que é atribuída ao quadro. A sedução, portanto, está também nesse jogo, no poder de controle sobre a revelação da imagem que, neste caso, é bastante sugestiva. A representação frontal e aproximada do sexo feminino é oferecida explicitamente aos olhos do espectador.
Muito se disse sobre a modelo que poderia ter posado para esse quadro, no entanto, uma das hipóteses que levanta Savatier, talvez a mais provável, seria a de que o quadro tivesse sido realizado a partir de uma fotografia. Sabe-se que naquela época, havia um comércio clandestino de fotografias de nus “acadêmicos” vendidos por preços econômicos a pintores que não podiam ou não queriam trabalhar com modelos. As fotografias tinham formatos de cartões de visita, discretas e cômodas de transportar. Esse mercado era chamado de “comércio de obscenidades” e em geral mostravam muito pouco ou quase nada do rosto das modelos.
A ausência de rosto diluía a identidade e chamava a atenção para os detalhes. Sugeria a possibilidade de ver sem ser visto, no olhar de um voyeur. O século XIX estava cheio de objetos e livros com alguma abertura ou mecanismos que revelavam cenas eróticas. O enigma era acentuado pelo jogo de cobrir e descobrir uma imagem. Assim, a cortina que velava a Origem do mundo, “reforçava o mistério, criava a lenda, não permitia nenhuma ambiguidade: ao retirar esse pedaço de pano, o diplomático convertia o simples espectador, o aficionado em arte, em voyeur ou em co-participante.”[4] Baudrillard fala na alegria do segredo[5]. Compartilhar a experiência de contemplar o quadro funcionava como um ato secreto, algo que deveria ser valorizado; proporcionava o prazer de desvendar um enigma e de guardar um segredo.
Na mesma época, Émile Zola abordou a dificuldade do olhar. Em seu ensaio L’écran, de 1866, o novelista discorre sobre a problemática do olhar, vê a obra de arte como janela aberta, porém com uma espécie de camada transparente por meio do qual passa a imagem. Victor Stoichita relata que para Zola que precisamente teorizou sobre o “véu” como metáfora de arte, o tema do olhar obstaculizado ocupa um lugar crucial[6].
Também Jacques Lacan quando foi proprietário de A origem do mundo encomendou ao artista André Masson um painel que tivesse a função de cobrir o quadro. A intenção era a mesma: Lacan criava momentos especiais revelando a pintura por trás do painel. Masson pintou uma paisagem “surrealista” com traços de estilo japonês, que, de maneira sutil, obedecia os contornos do corpo feminino do quadro de Courbet. Savatier comenta que “Masson havia criado uma Origem equivocadamente casta que dissimulava sua verdadeira natureza, um “quadro sobre o quadro”[7] Desta vez, então, não havia a cortina, mas sim um quadro sobreposto ao outro. A repetição da imagem do corpo nu, dissimulada através de uma paisagem, agia como se fosse um véu, uma camada que encobrisse, sugerindo, mas não mostrando, o que estava por detrás.
Segundo Savatier, Lacan “algumas vezes mostrava a um grupo de eleitos A origem do mundo, sempre com uma cerimonia especial que conferia a impressão de serem autênticos iniciados, e lhes convidava implicitamente a guardar o segredo. Seu amor desmesurado pelas situações teatrais lhe predispunha a tal jogo. Podemos imaginá-lo, sem dúvida, retirando o painel de Masson com uma lentidão calculada.”[8] Esse controle do tempo, portanto, repetia a intenção cerimonial e teatral criada por Khalil Bey.
A abertura da cortina ou a retirada do painel jogava com a duração e revelação de uma cena prestes a acabar. Apesar da pintura ter uma característica estática e duradoura, o uso de uma cobertura a transformava em espetáculo e lhe atribuía um caráter efêmero contradizendo sua natureza. Sua presença denunciava a própria ausência. O vazio e também a espera, segundo Baudrillard, muitas vezes, constitui a sedução. “O segredo da sedução está nessa evocação e revogação do outro através de gestos cuja lentidão e suspense são tão poéticos quanto o filme de uma queda ou de uma explosão em câmara lenta, porque alguma coisa então, antes de findar, tem tempo de fazer falta, o que constitui –se existe uma- a perfeição do desejo.”[9]
Transformar o estático em efêmero também foi a estratégia de Robert Morris, em 1961. O artista apresentou no centro de um palco uma coluna de 2,40 m de altura por 60 cm de largura. Quando abria a cortina, a coluna permanecia parada por três minutos e meio. Logo a coluna desabava e, passados mais três minutos e meio, a cortina se fechava. Ao criar uma cena teatral para suas esculturas, Morris provocou uma incômoda situação. Rosalind Krauss escreve que “no entender de determinados críticos não foi apenas a simplicidade monolítica da coluna que foi transposta para a produção ulterior de Morris, mas também um conjunto de componentes teatrais implícitos –uma impressão de que as grandes formas duras que Morris passou a criar possuíam uma espécie de presença cênica, como a da coluna.”[10] Nessa época a sensação do teatro invadir o campo da escultura causava desconforto.
 Robert Morris: Untitled (two columns), 1961
Robert Morris: Untitled (two columns), 1961
Ao contrário do quadro A origem do mundo, de Courbet, as esculturas minimalistas de Morris nada tinham de sedutor. Parece que Morris, longe de querer seduzir o público, provocava um desapontamento conseqüente da espera de um acontecimento que deixava a desejar. Com apenas a queda da coluna como espetáculo, o artista levantava um questionamento entre a ação teatral e o estatismo escultórico. Em seu livro “O que vemos, o que nos olha”, Georges Didi-Huberman percebe que as imagens são ambivalentes e o ato de ver sempre nos abrirá um vazio invencível. O Minimalismo, movimento em que se inseria as esculturas de Morris, procurava criar obras sem “jogos de significações, objetos reduzidos à simples formalidade de sua forma, à simples visibilidade de sua configuração visível, oferecida sem mistério entre a linha e o plano, a superfície e o volume”[11] Sem ilusões ou qualquer significado subliminar, a intenção era puramente formal: “what you see is what you see”[12].
O autor, no entanto, aponta para um paradoxo nos objetos minimalistas, pois, além da pesquisa geométrica, as obras possuíam uma presença obtida por um jogo de dimensões do objeto frente ao espectador. Essa “forma com presença”, na visão de Didi-Huberman, aponta uma dialética do olhar: “Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação fendida, inquieta, agitada, aberta. Entre aquele que olha e aquilo que é olhado”[13]
Assim, Robert Morris quando insere sua obra no ambiente teatral está jogando com essa presença, como se estivesse testando com ironia até que ponto o olhar sustenta o literal. A ação é mínima e o tempo é calculado com precisão. Rosalind Krauss entende que “embora a coluna tivesse sido criada para uma ambientação estritamente teatral, é muito pequena a diferença, em termos visuais, entre ela e os trabalhos seguintes apresentados por Morris em galerias e museus como escultura.”[14] Ou seja, o artista desloca o olhar do museu para o olhar do teatro o que interfere inevitavelmente na percepção do público. A inserção da cortina teatral, nesse caso, contribui para isso, a escolha não é fortuita: a cortina não é um objeto puro, mas um objeto que carrega uma função dentro do espaço cênico delimitando o tempo da obra.
Se Robert Morris desloca a escultura para o teatro, Khalil Bey desloca o teatro para a pintura. O uso da cortina constitui o marco desse jogo. A aparição da imagem anuncia a cena e a abertura do pano indica duração. Gaston Bachelard percebe que “o caráter dramático do instante talvez nos faça pressentir a realidade.”[15] O que se apresenta ao olhar, muitas vezes, anuncia seu fim.
[1] BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Campinas, SP: Papirus, 2004, p.92
[2] Palavra grega para ritual, dromenon é uma coisa feita, uma ação. Desta maneira, os gregos entendem que para realizar um ritual é preciso fazer algo, ou seja, reagir ao impulso dado. Johan Huizinga reflete, no livro “Homo Ludens”, que a matéria desta ação é um drama, isto é, um ato, uma ação representada num palco. As duas palavras gregas, dromenon (δρώμενον) e drama (δράμα) carregam o significado de coisa feita.
[3] SAVATIER, Thierry. El origem del mundo. Historia de un cuadro de Gustave Courbet. Astúrias: Trea, 2009, p. 77.
[4] Ibid.
[5] BAUDRILLARD, J. Op. Cit., p.91
[6] Cfr. STOICHITA, Victor. Ver y no ver. Madrid, Siruela, 2005, p. 25.
[7] SAVATIER, T. Op. Cit., p.198.
[8] SAVATIER, T. Op. Cit., p. 199.
[9] BAUDRILLARD, J. Op. Cit., p. 96
[10] KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 241.
[11] DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos o que nos olha. ....p.54
[12] Ibid, p.55
[13] Ibid, p.77.
[14] KRAUSS, R. Op Cit., p. 241.
[15] BACHELARD, Gaston. La intuición del instante. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. p.11